O Prazer do Texto

Em seu ensaio O Prazer do Texto (1973), Roland Barthes apresenta as suas reflexões sobre a leitura (e também a escrita do texto literário) em forma de anotações, investigando suas implicações estéticas. Na ocasião do Dia Mundial do Livro, selecionamos trechos desse ensaio que tratam do deleite, da fruição ou mesmo do “gozo” (em francês jouissance) do texto literário. Barthes discorre de maneira clara e direta sobre a relação entre o autor de um texto literário e o leitor e suas experiências de leitura, pautadas por expectativas, fruições ou mesmo frustrações. Afinal, existem diversos tipos de leitores, desde os que buscam satisfação intelectual, na validação de suas próprias ideias no texto literário, até mesmo aqueles que simplesmente procuram obter estímulos emocionais.
Em sua linha editorial, a Editora Ercolano busca um equilíbrio ao selecionar suas publicações. Pensamos em como os livros podem proporcionar experiências de leitura ricas, diversas e, é claro, prazerosas.
Assim, evitando interpretações exclusivamente psicanalíticas, filosóficas ou da teoria da literatura, O Prazer do Texto é um convite à reflexão sobre essas sensações no processo de leitura. Que o leitor desfrute, então, do trecho de Barthes que reproduzimos abaixo, na tradução admirável de Jaime Guinzburg.
O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se entreabre? Na perversão (que é o regime do prazer textual) não há “zonas erógenas” (expressão aliás bastante importuna); é a intermitência, como o disse muito bem a psicanálise, que é erótica: a da pele que cintila entre duas peças (as calças e a malha), entre duas bordas (a camisa entreaberta, a luva e a manga); é essa cintilação mesma que seduz, ou ainda: a encenação de um aparecimento-desaparecimento.
Não se trata do prazer do strip-tease corporal ou do suspense narrativo. Em ambos os casos, não há rasgão, não há margens; há uma revelação progressiva: toda a excitação se refugia na esperança de ver o sexo (sonho de colegial) ou de conhecer o fim da história (satisfação romanesca). Paradoxalmente (visto que é de consumo de massas), é um prazer bem mais intelectual do que o outro: prazer edipiano (desnudar, saber, conhecer a origem e o fim), se é verdade que todo relato (toda revelação da verdade) é uma encenação do Pai (ausente, oculto ou hipostasiado) – o que explicaria a solidariedade das formas narrativas, das estruturas familiares e das proibições de nudez, todas reunidas, entre nós, no mito de Noé coberto pelos filhos.
No entanto, a narrativa mais clássica (um romance de Zola, de Balzac, de Dickens, de Tolstoi) traz em si mesma uma espécie de mimese enfraquecida: não lemos tudo com a mesma intensidade de leitura; um ritmo se estabelece, desenvolto, pouco respeitoso em relação à integridade do texto; a própria avidez do conhecimento nos leva a sobrevoar ou a passar por cima de certas passagens (pressentidas como “aborrecidas”) para encontrarmos o mais depressa possível os pontos picantes da anedota (que são sempre suas articulações – o que faz avançar a revelação do enigma ou do destino): saltamos impunemente (ninguém nos vê) as descrições, as explicações, as considerações, as conversações; tornamo-nos então semelhantes a um espectador de cabaré que subisse ao palco e apressasse o strip-tease da bailarina, tirando-lhe rapidamente as roupas, mas dentro da ordem, isto é: respeitando, de um lado, e precipitando, de outro, os episódios do rito (qual um padre que engolisse a sua missa). A mimese, fonte ou figura do prazer, põe aqui em confronto duas margens prosaicas; ela opõe o que é útil ao conhecimento do segredo e o que lhe é inútil; é uma fenda. surgida de um simples princípio de funcionalidade; ela não se produz diretamente a estrutura das linguagens, mas apenas no momento de seu consumo; o autor não pode prevê-la: ele não pode querer escrever o que não se lerá. No entanto, é o próprio ritmo daquilo que se lê e do que não se lê que produz o prazer dos grandes relatos: ter-se-á alguma vez lido Proust, Balzac, Guerra e Paz, palavra por palavra? (Felicidade de Proust: de uma leitura a outra, não saltamos nunca as mesmas passagens).
O que eu aprecio, num relato, não é pois diretamente o seu conteúdo, nem mesmo sua estrutura, mas antes as esfoladuras que imponho ao belo envoltório: corro, salto, ergo a cabeça, torno a mergulhar. Nada a ver com a profunda rasgadura que o texto da fruição imprime à própria linguagem, e não à simples temporalidade de sua leitura.
Daí dois regimes de leitura: uma vai direto às articulações da anedota, considera a extensão do texto, ignora os jogos de linguagem (se eu leio Júlio Verne, avanço depressa: perco algo do discurso, e no entanto minha leitura não é fascinada por nenhuma perda verbal – no sentido que esta palavra pode ter em espeleologia); a outra leitura não deixa passar nada; ela pesa, cola-se ao texto, lê, se se pode assim dizer, com aplicação e arrebatamento, apreende em cada ponto do texto o assíndeto que corta as linguagens – e não a anedota: não é a extensão (lógica) que a cativa, o desfolhamento das verdades, mas o folheado da significância; como no jogo da “mão quente”, a excitação, provém, não de uma pressa processiva, mas de uma espécie de charivari vertical (a verticalidade da linguagem e de sua destruição); é no momento em que cada mão (diferente) salta por cima da outra (e não uma depois da outra), que o buraco se produz e arrasta o sujeito do jogo – o sujeito do texto. Ora, paradoxalmente (a tal ponto a opinião crê que basta ir depressa para não nos aborrecermos), esta segunda leitura, aplicada (no sentido próprio), é a que convém ao texto moderno, ao texto-limite. Leiam lentamente, leiam tudo, de um romance de Zola, o livro lhes cairá das mãos; leiam depressa, por fragmentos, um texto moderno, esse texto torna-se opaco, perempto para o nosso prazer: vocês querem que ocorra alguma coisa, e não ocorre nada; pois o que ocorre à linguagem não ocorre ao discurso: o que “acorre”(1), o que “se vai”, a fenda das duas margens, o interstício da fruição, produz-se no volume das linguagens, na enunciação, não na seqüência dos enunciados: não devorar, não engolir, mas pastar, aparar com minúcia, redescobrir, para ler esses autores de hoje, o lazer das antigas leituras: sermos leitores aristocráticos.
* * *
Se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levado a dizer: este é bom, aquele é mau. Não há quadro de honra, não há crítica, pois esta implica sempre um objetivo tático, um uso social e muitas vezes uma cobertura imaginária. Não posso dosar, imaginar que o texto seja perfectível, que está pronto a entrar num jogo de predicados normativos: é demasiado isto, não é bastante aquilo; o texto (o mesmo sucede com a voz que canta) só pode me arrancar este juízo, de modo algum adjetivo: é isso! E mais ainda: é isso para mim! Este “para mim” não é nem subjetivo, nem existencial, mas nietzschiano (“no fundo, é sempre a mesma questão: O que é que é para mim?…”).
O brio do texto (sem o qual, em suma, não há texto) seria a sua vontade de fruição: lá onde precisamente ele excede a procura, ultrapassa a tagarelice e através do qual tenta transbordar, forçar o embargo dos adjetivos – que são essas portas da linguagem por onde o ideológico e o imaginário penetram em grandes ondas.
* * *
Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está 21 ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem.
Ora, é um sujeito anacrônico aquele que mantém os dois textos em seu campo e em sua mão as rédeas do prazer e da fruição, pois participa ao mesmo tempo e contraditoriamente do hedonismo profundo de toda cultura (que entra nele pacificamente sob a cobertura de uma arte de viver de que fazem parte os livros antigos) e da destruição dessa cultura: ele frui da consistência de seu ego (é seu prazer) e procura sua perda (é a sua fruição). É um sujeito duas vezes clivado, duas vezes perverso.
In: BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo, Editora Perspectiva: 1987, pp. 15-21.
—-
(1) No original arrive. (N. do T.).

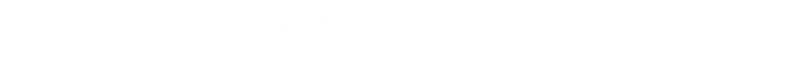


Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.