Cartas de Manet

No post de hoje, trazemos novidades sobre nosso lançamento de setembro: Manet no Rio, compilação das cartas do então adolescente Édouard Manet durante sua viagem ao Rio de Janeiro entre 1848-1849. Nossa edição, traduzida por Régis Mikail, conta com prefácio de Alecsandra Matias e posfácio de Felipe Martinez.
Hoje considerado precursor da pintura moderna, Manet escreveu cartas à sua família que nos mostram um dado menos conhecido: aos dezessete anos, sonhava em fazer carreira na marinha. Nessas cartas, ele relata suas aventuras a bordo do Havre e Guadeloupe e descreve suas impressões sobre o Rio de Janeiro, seus habitantes, costumes e os horrores da escravidão.
Selecionamos o ensaio de Jorge Coli “Cartas de Manet”, extraído de O Corpo da liberdade: reflexões sobre a pintura do século XIX (SESI-SP Editora, 2018, pp. 193-204), cuja reprodução nos foi gentilmente cedida pelo autor. Com sua visão tão ampla quanto perspicaz, Jorge Coli esmiúça a relação entre a criatividade e a liberdade na produção do artista.
Se, ao longo do século XIX, as correspondências desempenham um papel revelador com seus lirismos, excessos e contradições, Coli propõe uma análise inovadora das cartas de Manet, distintas da literatura epistolar da época. A parca correspondência deixada pelo pintor aponta uma rara coerência entre o artista e o correspondente, uma relação direta entre obra e carta. Convidamos o leitor, então, a investigar esse caso do pintor que uma vez quis ser marinheiro.
***
Cartas de Manet
Jorge Coli
As cartas que Édouard Manet deixou são breves e poucas. Na maioria das vezes, apenas bilhetes ou quase. A edição de sua correspondência com Zola foi feita no catálogo da mostra retrospectiva que comemorou, em 1983, o centenário de sua morte. Em plena efervescência criadora, em pleno momento de renovação das artes, poder-se-ia esperar, entre o escritor que se bateu pelas vanguardas e o primeiro dos pintores francamente modernos, amigos ambos, um correio apaixonante pelas reflexões estéticas que contivesse ou pelos episódios que esclarecesse. Nada disso. Eis, por exemplo, a resposta aos artigos de Zola, publicados em 1866, sobre o próprio Manet e a nova arte, artigos de enorme repercussão:
Caro senhor Zola,
Não sei onde encontrá-lo para apertar-lhe a mão e dizer-lhe o quanto estou feliz e orgulhoso por ter sido defendido por um homem de seu talento! Que belo artigo! Mil vezes obrigado.
Seu penúltimo artigo (“O momento artístico”) era dos mais notáveis e causou grande efeito. Quero pedir-lhe uma opinião. Onde poderia encontrá-lo? Se isto lhe convier, estou todos os dias no Café de Bade, das cinco e meia às sete horas.
Até breve, caro senhor. Queira, rogo-lhe, aceitar os protestos de minha viva simpatia e acreditar-me seu obrigado e reconhecido.
Manet (1)
E se quisermos saber o que o pintor pensava dos romances de Zola temos
de nos contentar com:
Meu caro amigo,
Acabei de terminar Thérèse Raquin e envio-lhe todos os meus cumprimentos. É um romance muito bem feito e muito interessante.
Seu
Manet (2)
Como o século XIX nos habituou aos grandes derramamentos da alma em cartas e diários, testemunhos tão parcos nos deixam decepcionados. Mas, se pensarmos no personagem e no artista Manet, essa economia nas confidências e nas manifestações do pensamento aparece como perfeitamente adequada. Há uma justa coerência entre o ser Manet, sua arte e seus escritos. Ela se encontra no extremo oposto de um clima emocional que lhe era contemporâneo.
Tomemos Van Gogh, neste caso, o antípoda. Há constantemente nele um estado de excitação nervosa, até certo ponto cultivada, e cultivada fisicamente, pelas provações a que submete seu corpo, com jejuns, bebedeiras, sono parco, e que intervém na mente rica de projetos exaltados, na percepção do mundo. Como se sabe, além de sua genial pintura, Van Gogh deixou o testemunho de um dos mais prodigiosos mergulhos introspectivos graças a suas inúmeras cartas, que a edição de Georges Charensol enfeixou em três maciços volumes de mais de seiscentas páginas cada um. Percurso angustiado, nas orlas da loucura e da morte, sua leitura nos envolve como a de um grande romance.
Porque existe nele o que seria possível chamar de uma retórica de vida. Em Van Gogh há o desespero dilacerado diante da “verdadeira vida” — para empregar sua própria expressão —, desespero causado por sua absoluta dificuldade de inserção no universo contemporâneo. Uma dificuldade que se encontra também num Baudelaire, formulada pelo poeta quase como um arquétipo: observação sobreaguda do mundo, estimulada pelos estados físicos abalados — o estado físico, por exemplo, do “Homem da multidão” de Poe. Mais ainda, o “grande romance” das cartas de Van Gogh, supremamente trágico por delinear a trajetória de uma existência real, apresenta uma equivalência literária espantosa com a obra de Dostoiévski. Baudelaire, Poe, Van Gogh e Raskolnikof compartilham, em vários aspectos, de uma mesma natureza.
Tal retórica da interioridade trágica — exacerbação da herança romântica que traz a insuportável dificuldade de ser diante do mundo “burguês” — passa pela imaginação e pela existência, pela arte e pelo vivido, leva ao crime fictício e ao suicídio verdadeiro. Leva também aos comportamentos confessionais pletóricos, testemunhos que se configuram como o lugar natural dessa mesma retórica. Retórica possuidora de uma eficácia a tal ponto poderosa, que convence o mundo, mas ainda seu próprio autor, numa relação cuja forma e substância se tornam organicamente as mesmas.
Haveria muito o que dizer a respeito desse modo de ser e de sentir — basta-nos aqui notar que Manet se encontra fora dele. Sua arte é a da retórica perdida — ele “tomou a eloquência e torceu-lhe o pescoço”, para lembrarmos Bataille, numa frase a respeito de um de seus quadros. Mas em Manet, eloquência não se refere apenas aos lugares-comuns das tradições da cultura; significa o esvaziamento das relações sentimentais com o mundo, sejam elas profundas, poderosas, violentas, ou epidérmicas, afetadas, exteriores. Isto se constata tanto em sua vida quanto em sua obra.
As descrições que dele possuímos, deixadas por seus contemporâneos, são todas concordantes. Manet era “encantador”, elegante, amabilíssimo, alegre. Parisiense da gema, abominava a natureza: seu meio era a metrópole cosmopolita, onde se introduzia sem afetações de mundanidade, mas com a perfeita correção do homem bem-educado. Um grande cuidado no vestir-se e um bom humor franco, contagiante. Françoise Cachin, no catálogo da exposição de 1983, lembra que Berthe Morisot gostava de conversar com o Sr. Degas, filosofar com Pavis e rir com Manet”. (3) É que o pintor da Olímpia tinha tanto horror das emoções fáceis quanto do pedantismo teórico e sapiente das discussões intelectuais. Um seu amigo e contemporâneo, Jeanniot, conta que ele possuía uma fórmula para desviar todo diálogo que tendia à elucubração estética: “A arte é um círculo”, dizia então, “ou se está dentro, ou se está fora, segundo o acaso do nascimento”. (4)
Compreendemos assim que suas cartas se caracterizam pela parcimônia. Há, porém, três momentos de exceção. Exceção durante uma viagem à Espanha, particularmente num instante de entusiasmo em Madri, diante de Velázquez e Goya, quando escreve, em 1865, a Fantin-Latour. Exceção também em 1870, quando do cerco de Paris pelos prussianos, nas cartas enviadas à sua família, refugiada nos Pireneus. Manet permanecera na capital, alistando-se como tenente na guarda nacional. As cartas eram transportadas por balões — meio relativamente incerto, o que fazia aumentar a ansiedade — e a situação dos parisienses era das piores, à mercê da epidemia e da fome.
Essa correspondência não disfarça os acontecimentos, mas não traz nenhuma dramatização estilística: as frases são curtas, as informações, precisas, os sentimentos, contidos:
Os prussianos perderam, acredito, muita gente; entre nós, as perdas foram menos consideráveis. Entretanto, o pobre Curellier, o amigo de Degas, foi morto. Leroux foi ferido e, creio, feito prisioneiro. Começamos a não aguentar mais, estamos fechados e privados de roda comunicação; pois faz mais de um mês que não temos notícias de vocês…
Temos a varíola, que faz estragos, e estamos reduzidos, no momento, a
75 gramas de carne por pessoa. Tudo isto não é nada, quando se pensa no que ainda acontecerá […].
Demorei bastante, minha cara Suzanne, procurando sua fotografia. Encontrei enfim o álbum na mesa da sala e passo olhar às vezes seu rosto bom. Esta noite, acordei acreditando ouvir sua voz que me chamava. Gostaria que chegasse o momento de revê-la e o tempo passa para mim, muito lentamente. (A sua esposa, as de outubro) (5)
Em meio aos horrores, no entanto, o chic parisiense ressurge, numa atitude blasé (este início de carta, por exemplo: “Que l’on s’ennuie à Paris en ce moment!” — Como nos aborrecemos em Paris neste momento!), numa nota sobre a iluminação pública que diminui ou, inesperadamente, desmontando dramas, um pedido sóbrio:
Paris está mortalmente triste. O gás começa a faltar: ele é retirado de todos os estabelecimentos públicos. A comida se torna impossível […].
A varíola faz estragos e atinge sobretudo os camponeses refugiados.
[…] Há, agora, em Paris, açougues de gatos, cães e ratos. Só comemos cavalo, quando podemos obter.
Gostaria que você me visse com meu grande casaco de artilheiro: vestimenta excelente, indispensável para o serviço. (À sua esposa, 30 de outubro) (6)
O terceiro momento excepcional de sua correspondência, onde ela toma novamente corpo e densidade — terceiro nesta nossa enumeração, primeiro pela ordem cronológica — são as cartas que Manet enviou à sua família (à mãe, ao pai, ao irmão Eugène, ao primo Dejouy) do Rio de Janeiro. São estas que, aqui, nos interessam particularmente.
Eis o episódio. Édouard Manet é o filho de um alto funcionário do Ministério da Justiça, que sonha, para ele, com uma carreira na magistratura. Mas, desde seus tempos de escola, o rebento mostra uma nefasta inclinação para a pintura. Nisto é encorajado por um tio materno, o capitão Édouard Fournier. Decididamente sem nenhuma vocação para a advocacia, propõe a seu pai entrar na Escola Naval, mas é reprovado no concurso de admissão. Para poder prestar um novo exame, deve fazer uma viagem num navio-escola. É assim que embarca, aos dezessete anos, no Havre et Guadeloupe, com destino ao Rio de Janeiro, onde permanece aproximadamente durante os meses de fevereiro e março de 1849. De volta à França, novo fracasso nos exames e inscrição no ateliê de Couture: é o início de sua carreira artística.
Cinco cartas apenas, que foram cuidadosamente traduzidas e comentadas por Antonio Bento, num trabalho exemplar editado em 1949, por ocasião do centenário da passagem de Manet pelo Rio. Elas apresentam, para nós, um duplo interesse, pelo que revelam do futuro pintor e pelo que nos trazem do Rio de Janeiro daquele tempo.
As cartas mostram, no jovem Manet, o mesmo espírito do “civilizado” metropolitano que manterá na idade adulta, para quem o Rio aparece como vagamente pitoresco, certamente bastante bárbaro, e que, de modo algum, o inspira. Manet tem horror ao exótico; a fuga do mundo contemporâneo, comportamento alimentado no século desde o romantismo, que fez um Delacroix descobrir o norte da África ou um Gauguin ir se instalar na Polinésia, lhe é perfeitamente estranha:
“Agora que conheço o Rio a fundo, desejo ardentemente rever a França e me reencontrar o mais cedo possível entre vocês” (a Dejoui, 11 de março). (7)
A secura das observações tem algo da descrição geográfica ou do relato antropológico. Nada de evocações literariamente “artísticas” ou de anotações picturais. Van Gogh, ao chegar à Inglaterra em 1876, antes de se descobrir pintor, revela a prodigiosa sensibilidade de seu olhar através da descrição que se encontra numa carta endereçada a seus pais:
Na manhã seguinte, no trem de Harwich a Londres, foi lindo ver a
Aurora surgir, os campos negros, os prados verdes com carneiros e seus filhotes e, aqui e ali, uma cerca de espinheiros, alguns grandes carvalhos com troncos cinza e galhos negros. Na manhazinha, o céu estava azul, com algumas estrelas ainda, e reinando sobre tudo, no horizonte, uma larga faixa de nuvens cinza. […]
Sábado à tarde, fiquei no tombadilho até que o sol se pusesse. Tão longe quanto a vista alcançava, a água era de um azul escuro, franco, com aqui e ali altas vagas de cristas brancas.
O céu era de um azul pálido, liso, sem a menor nuvenzinha.
O sol se pôs, um último raio fez cintilar a água. (8)
Compare-se este trecho com as frases de Manet descobrindo a baía de Guanabara, baía que a maioria esmagadora dos viajantes que visitavam o Brasil proclamava como um dos mais estupendos panoramas do universo:
A baía de Guanabara é encantadora, é povoada por navios de guerra de todas as nações, é cercada por montanhas verdes onde se descobrem casas encantadoras.
Como se vê nenhum esforço de efeito literário. Seria muito tentador, mas impossível, aqui, desenvolver um estudo comparado dos diversos relatos que descrevem a chegada ao Rio. A excitação de deslumbramento pôde levar tanto à boa sinceridade estilística de um Ferdinand Denis — que escreve, em 1837: “ [..] se chega ante estas belas rochas de granito, que formam a entrada do Rio, e se avistam suas margens elevadas, carregadas de uma vegetação brilhante, tão abundante que as fendas dos rochedos se ornam de uma linda verdura, e quando da areia da própria praia desabrocham grandiosas flores […]” (9) — quanto aos excessos descritivos, mas tão envolventes, desse sir Richard Francis Burton, o tradutor inglês de As mil e uma noites: “[A baía] é mais encantadora quando se estende sob seu rico dossel etéreo, enquanto um verniz de atmosfera diáfana imprime às distâncias uma suave e maravilhosa beleza; quando o manto azul é de um azul perfeito, brilhante, quando as tonalidades castanhas são riscadas de cor-de-rosa e vermelho e quando as próprias cores nacionais se fazem lembrar: verde, vivo como o da esmeralda, e amarelo, reluzente como ouro brunido” (1867); (10) ou à escrita poderosa, cósmica, anímica, de Kipling, em 1927:
Pode haver águas mais belas em algum lugar, mas nem em Sidney, nem em Cape Town, que eu sempre julguei supremas nos seus gêneros, podem comparar-se com estas em tamanho — o qual, afinal de contas, não importa muito — mas em indescritível diversidade, cor, amplitude o mi e esplendor de cenário. Uma serra de montanhas coroadas de nuvens fechava a baía de um lado, a cinquenta ou sessenta quilômetros de distância. Estavam sem dúvida à espera de um bom temporal. As montanhas não se cobrem de mantas de nuvens de grande espessura apenas para algumas horas de chuva. Picos furavam a cerração, acordavam trovoadas distantes e tornavam a recolher-se. Certas faces gigantescas de penhascos avançavam como gado pela névoa, olhavam e voltavam para trás do véu.” (11)
A tudo isso, Manet opõe: “baía encantadora, montanhas verdes”. A natureza, aliás, não lhe interessa em nada. Abomina as chuvas diluvianas dos trópicos, morre de medo das cobras — e será mesmo picado por um réptil.
Quando começa a falar da vegetação, emprega alguns adjetivos convencionais e desvia imediatamente para alguma coisa de mais estimulante — uma farra, por exemplo:
Quanto ao campo dos arredores, nada mais belo, nunca vi natureza mais bela; fiz ontem um passeio (partie) com vários solteirões numa ilha no min fundo da baía, divertimo-nos muito, a moradia onde ficamos durante três dias é deliciosa e toda crioula; fizemos uma excursão numa floresta virgem, é coisa muito curiosa, salvo as serpentes, que perturbam um se ai pouco o prazer do passeio. (A seu primo Jules Dejouy, 11 de março) (12)
O que atrai Manet é a vida urbana do Rio, os seres, as mulheres em particular. Não deixa de anotar, sem crueldade, mas imparcialmente, o provincianismo da antiga capital: o palácio do imperador (o Paço Imperial) — uma “bicoque” — uma baiuca —, “mesquinho”. Para um francês, cujas escalas de valores são as grandes moradias aristocráticas de seu país — como Menars, Champs ou Maisons-Laffite (e isto para não evocarmos as residências reais), as instalações de nosso monarca deviam mesmo se assemelhar ao domínio de um fidalgozinho de província. A milícia nacional é “très comique”, o teatro “ennuyeux et bête” [entediante e imbecil]. E, em suas cartas, velhos mitos nacionais se encontram reafirmados:
“os brasileiros são moles, e têm, creio, pouca energia”; “ as mulatas são quase todas lindas”.
Manet não cultiva a ironia bem ou mal-humorada, que alguns viajantes nos deixaram. Não possui a observação mordente, impiedosa, tantas vezes lúcida, no entanto, de um Carl Seidler, que escreve em 1862:
O Brasil é a terra matriz da natureza e do mundo das fadas, terra da fantasia e da insensatez da anarquia, da especulação, terra de macacos, frades e mulatos, o estado imperial de um arlequim de traje multicolor, que com sua vara de condão transforma ouro em papel, pão em pedra, homens em animais, e que na velha pantomima ‘Juca, o macaco brasileiro’ mostra sua ascendência sobre súditos quadrúpedes! (13)
Nem irônicas, nem exaltadas, nem picturais ou literárias, as cartas de Manet, escritas do Rio, possuem um interesse especial. Elas não são apenas o testemunho breve de um adolescente numa rápida aventura tropical, adolescente que depois se tornaria um pintor maior. Nelas, nenhuma ingenuidade. Um olhar interessado antes de tudo pelos seres humanos (como nos mostrará mais tarde sua pintura) e pelas relações que esses Seres tecem entre si no meio em que vivem. A paisagem, urbana ou natural, conta pouco; ao contrário, a moda toma lugar de destaque. Manet nunca é tentado a aderir afetivamente à cultura que descobre: conserva sempre seu lugar — o da distância do estrangeiro, do outro, que observa sem se identificar com o que vê. Nestas passagens, por exemplo:
Nas ruas não se encontram senão negros e negras; os brasileiros pouco saem de casa e as brasileiras ainda menos. Estas são vistas apenas no com momento em que vão à missa ou à tarde, após o jantar, quando ficam em suas janelas. É então permitido olhar para elas à vontade, pois durante o dia, se por acaso se encontram na janela e percebem que estão sendo observadas, recolhem-se imediatamente. […] Os negros usam habitualmente calças, algumas vezes uma blusa de algodão, mas, como escravos, não lhes é permitido calçar sapatos. As negras mostram-se, na maioria, nuas da cintura para cima; algumas trazem um pano de seda preso ao pescoço e caindo sobre o peito. São geralmente feias. Vi, contudo, algumas bastante bonitas. Vestem-se com muito apuro. Umas trazem turbantes, outras arranjam artisticamente suas carapinhas e quase todas usam saiotes enfeitados com imensos babados.
Quanto às brasileiras, são geralmente lindas; têm olhos e cabelos magnificamente negros. Estão todas penteadas à moda chinesa e andam nas ruas sem chapéus. […] As mulheres não saem nunca sozinhas, estão sempre acompanhadas de sua negra ou seus filhos, pois neste país casam-se aos catorze anos e mesmo antes […] No Rio, as brasileiras fazem-se conduzir em palanquins. Existem também carros e ônibus puxados por bestas, pois utiliza-se este animal em vez de cavalo. […]
O Carnaval do Rio tem um cunho todo particular. No Domingo gordo, passeei durante o dia pela cidade. As três horas, todas as mulheres brasileiras postam-se em suas portas e em seus balcões e atiram em todos os homens que passam bombas de cera de todas as cores, cheias de água e as quais chamam de limões. Tinha os meus bolsos cheios de limões e respondi da melhor maneira que pude, o que é de bom-tom. A batalha dura até as seis horas da tarde; tudo então volta à normalidade, realizando-se um baile à fantasia, copiado dos bailes da Ópera, no qual somente brilham os franceses. (À sua mãe, 26 de fevereiro) (14)
O olhar de Manet sobre o Rio parece-me encontrar seu equivalente nas imagens de Debret, imagens em que a tradição descritiva do enciclopedismo iluminista se afirma graças à sua formação neoclássica.
Basta comparar Debret e Rugendas para que fique bem claro o que pretendo dizer. No primeiro, um enquadramento sistematicamente frontal, personagens valorizados pelo tamanho, dividindo o espaço com acessórios minuciosamente inventariados, dominando a paisagem, seja ela urbana ou natural. Raras são as pranchas como a que representa a Floresta virgem às margens do Paraíba, onde se percebem pequenos personagens atravessando o rio sobre um tronco imenso em meio à desordem da selva. (15) Ela é exceção.
A natureza tropical, tremenda, descontrolada, aterradora, ou cuja pacífica imensidão produz no espírito uma espécie de percepção do infinito, é no romantismo mais franco de Rugendas que a encontramos, em seus homenzinhos traçados nas perspectivas vastas, no meio da vegetação desproporcionada ou nos elementos desencadeados, como os barcos dominados pela veemência oceânica, que nos revela a Entrada da barra do Rio de Janeiro. Rugendas, aliás, desse ponto de vista, não está longe de outros artistas alemães que também visitaram os trópicos, como Hildebrandt ou Ender.
O testemunho de Manet dista, portanto, do espírito romântico, preferindo a descrição inteligente e medida, serena, interessada no homem, no espetáculo que este oferece. Não abdica — o que nunca fará em sua vida — de seu estatuto de ser urbano (nos dois sentidos da palavra), civilizado e “moderno”. Seu contato com o Rio — quer pelas circunstâncias (juventude, viagem indesejada), quer pela “essência” de uma configuração intelectual e sensível (a de um espírito que sempre se alimentou das contradições engendradas pela civilização europeia de seu tempo) — foi necessariamente superficial e sem posteridade.
O testemunho de suas cartas, no entanto, nos confirma um olhar que virá a se constituir plenamente na obra pictural mais tarde desenvolvida, e oferece um Rio de Janeiro visto através desse mesmo olhar que pela primeira vez se manifesta.
—
(1) Manet, catálogo da exposição do Grand Palais. Paris: RMN, 1983, p. 520.
(2) Id., ibid., p. 521.
(3) Id., ibid., p. 34.
(4) In: Pierre Courthion, Manet raconté par lui-même et ses amis, v. II, P. 230 (Carta de Jeanniot). Lausanne: La Guilde du Livre, 1953.
(5) Id., ibid., pp. 65-66.
(6) Id., ibid., pp. 67-68.
(7) Antonio Bento, Manet no Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Salde, 1949, p.79.
(8) Jorge Coli, Vincent van Gogh, a noite estrelada. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 48.
(9) Ferdinand Denis, Brasil. São Paulo: USP/ Itatiaia, 1980, p. 99.
(10) Richard Burton, Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. São Paulo: USP/Itatiaia, 1967, p. 37.
(11) Rudyard Kipling, Cenas brasileiras. Rio de Janeiro: Record, s.d., pp. 41-42.
(12) Antonio Bento, op. cit., p. 79.
(13) Carl Seidler, Dez anos no Brasil. São Paulo: USP / Itatiaia, p. 43.
(14) Antonio Bento, op. cit., pp. 84-85.
(15) O leitor perdoará uma aproximação esdrúxula, mas à qual não resisto. Esta prancha, representando a floresta e o Paraíso, com seu tronco inclinado e minúsculos personagens, possui uma semelhança notável (e surpreendente) com a fotografia de cenários e personagens de uma passagem antológica do King Kong, de Cooper e Schoedsak (RKO Radio-Pictures, Hollywood, 1933).

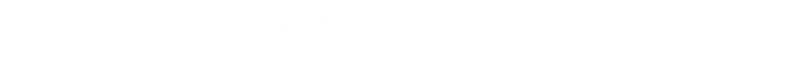


Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.